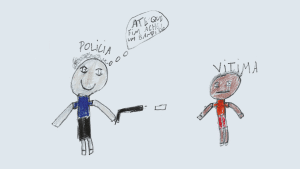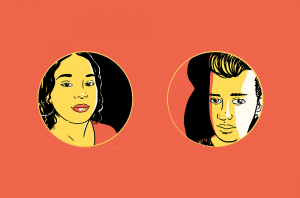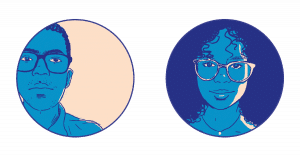Literatura infantojuvenil,
A força dos caracóis
Sidnei Nogueira evoca ancestralidade e respeito ao cabelo crespo na construção da autoestima infantil
30set2023 | Edição #74A cabeça de uma pessoa faz dela um rei, diz um antigo provérbio iorubá. Nas religiões de matriz africana, a cabeça, orí, é a coroa que não deve ser tocada por outros para que energias não se choquem e desestabilizem o íntimo de alguém. Mas a coroa entornada por cabelos crespos é alvo constante de racismo e há ainda quem, desconvidado, coloque a mão.
É o que acontece com Omilayó, protagonista de A menina dos cabelos d’água, do professor e babalorixá Sidnei Nogueira. O poder da menina está em suas madeixas, ilustradas por Luciana Itanifè como ondas do mar. A força que emana desses caracóis é vista com estranheza pelos demais, que se afastam. A menina esmorece em solidão, mas é embalada pelos relatos dos familiares ao descobrir uma ancestral com habilidades semelhantes às dela e às da rainha do mar, Iemanjá, dando início a uma jornada de autoconhecimento.

O professor e babalorixá Sidnei Nogueira [Divulgação]
O título marca a estreia conjunta de Sidnei Nogueira e do selo Baião, da Todavia, na literatura infantojuvenil. O formato também inova: lâminas que alternam texto e imagem, reunidas em uma caixa anil, convidam a experimentar o livro como objeto. Em entrevista para a Quatro Cinco Um, o babalorixá fala sobre a ancestralidade na construção da identidade e sobre a potência do livro infantojuvenil.
Como surgiu a ideia de falar com crianças sobre ancestralidade?
Atualmente, meu maior contato com crianças se dá pelo terreiro. São cerca de vinte, muitas delas negras. Querendo estimular a leitura, eu sempre levava um livro. E me veio a ideia de escrever para essa faixa etária, mas pensava se eu teria a linguagem certa. Meu livro anterior, Intolerância religiosa (Jandaíra, 2020), era voltado a jovens e adultos.
Junto à ideia de escrever para crianças, um provérbio iorubá não me saía da cabeça: “Quem joga água à sua frente, caminha sobre a terra úmida”. Ao acordar, os iorubás jogam um jarro de água na porta da casa para umedecer a terra e poder trabalhar e caminhar, materializando a metáfora. Nós caminhamos sobre a terra árida, que é a terra do ódio, a terra seca. Rachamos os pés, sofremos. Transformei a sabedoria ancestral em um dos poderes da menina dos cabelos d’água, que joga água na terra continuamente.
O livro é dedicado às meninas dos “diversos e múltiplos cabelos d’água”. Quem são estas?
São as meninas de cabelo crespo. Quis escrever sobre elas por conta de uma inquietação. Muitas crianças negras já me contaram de ocasiões em que pessoas e colegas brincaram com o cabelo delas, ou de professores que as aconselharam a cortar, prender ou trançar. Sempre vêm seguidos de “carinhos” nada carinhosos, como “você vai ficar mais bonita assim”. Lamentavelmente, é na escola que as crianças negras mais sofrem esse tipo de violência.
‘Precisamos ensinar as crianças a dar cambalhotas para viver, nesse movimento que é natural à água’
Mais Lidas
Na história, o cabelo ganha camadas metafóricas: o crespo da menina tem fertilidade, é um cabelo-água, cabelo-peixe, cabelo que gera vida. E os cabelos ganharam a mesma cor da caixa. O anil faz alusão às asas de um pássaro importante no candomblé: o àlùkò, que carrega a boa sorte e a riqueza para Olokún, divindade dos oceanos.
No livro, você traz palavras do iorubá e seus significados. Por quê?
O tempo todo as crianças são expostas à língua inglesa: em shoppings, na rua, na internet etc. E nós temos no Brasil uma pluralidade de línguas: a língua do colonizador, dos imigrantes, dos indígenas e dos escravizados. Quis manter os termos do iorubá no formato dicionarizado porque já existem muitas palavras de origem africana no nosso vocabulário cotidiano, de maneira pronunciada e aportuguesada. Utilizá-lo é respeitar uma língua presente no país, na cultura de terreiro, mas também no cotidiano e na formação da língua portuguesa.
Isso pode despertar a curiosidade: que idioma é esse, de onde vem. Traz parte da história da formação do Brasil que dificilmente é vista em aula. Quero que a criança seja curiosa, faça perguntas; a começar pelo projeto: uma caixa de presente a ser aberta. Os livros podem ter outros formatos e continuar contando uma boa história.
Como foi escrever sobre subjetividade para as crianças?
Falar sobre subjetividade é difícil para todas as idades, mas deve ser feito. Para mim, o elemento mais importante na história é a mutabilidade da menina, que sai de um lugar de autorrejeição para um lugar de super-heroína. Essa mutabilidade é uma carência e uma dificuldade da atualidade. Há dias em que você se sente triste, mas eles são passageiros como os dias em que você se sente feliz. Tudo isso está na Omilayó. Precisamos ensinar as crianças a dar cambalhotas para viver, nesse movimento e dança que são naturais à água e aos humanos.
Momentaneamente, está tudo bem sentir tristeza, raiva, querer ficar sozinho, quieto e depois recuar. Mas ninguém recua sozinho, é preciso uma rede de apoio. Essa é nossa terra fértil e úmida para caminhar. Crianças são mares de emoções e nós as vamos inibindo com “não pode chorar”, “não faz cara feia”, “isso você não pode sentir”, porque a nossa sociedade odeia a sensibilidade, que é geralmente jogada para o campo do feminino. E nós sabemos: a sociedade odeia o feminino. É preciso dizer que o sentir é plural, como a proposta de fazer uma literatura para todas as infâncias. O plural é tão acolhedor e o S do português permite que não exista uma vivência e infância únicas. Seja indígena, de terreiro, negra, branca, até a infância guardada na vida adulta.
E como você vê o processo de amadurecimento?
Precisamos ter responsabilidade afetiva com as crianças. Por ser babalorixá, recebo muitas pessoas na minha mesa de jogo, e 70% delas são mulheres. Elas me dizem não encontrar mais homens adultos, apenas meninos. Um dia acordam e veem que o marido não é um homem, é um filho que não cresceu, porque nossa sociedade não ritualiza a idade adulta. Uma vez, Ailton Krenak me disse que essa sociedade não ritualiza a fase de maturidade. Nela, o casamento não é sobre amadurecimento, mas sobre gênero. A mulher já amadureceu, tem a menstruação. Os homens não passam por algo parecido, então se casam ainda meninos. E muitas vezes clamando por uma nova mãe. É necessário tempo para resolver isso, e a falta dele está comprometendo a ritualização das passagens.
Podemos manter nossa criança interior, mas é preciso criar filhos para que eles cresçam. Não me parece à toa que tantas crianças não tenham o nome do pai na certidão de nascimento, afinal a maioria não é um homem adulto. Um adulto fará o que é certo: registrar, dar conta, se envolver. Fala-se tanto sobre a virilidade masculina, mas onde está a camada mais adulta do homem, que é assumir a responsabilidade?
Como foi trabalhar nas ilustrações com a Luciana Itanifè?
A Luciana é minha filha de santo no terreiro e é filha de Iemanjá. Ela é pedagoga, mãe crecheira e administra um Caserê, um projeto não institucional entre famílias, de acolhimento às primeiras infâncias. Contei a ideia e pedi que me ajudasse a traduzir a história para o universo infantil com imagens. Luciana finalizou tudo muito rápido.
Ela nunca havia ilustrado e eu nunca havia escrito para as infâncias. É uma estreia em conjunto. Queremos que o livro entre no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), agora que São Paulo voltou para o plano após a discussão sobre o livro digital naufragar. A menina dos cabelos d’água mostra o impacto de ter o livro físico na mão.
Que livro você gostaria de ter lido na infância?
Já mais velho, li um livro que fez sentido para mim: O menino do dedo verde, de Maurice Druon (José Olympio, 2017). Teve sentido porque o menino era diferente: onde tocava nasciam plantas, flores e árvores. Ele tinha um superpoder, como a menina dos cabelos d’água, mas por ter o dedo verde, era estigmatizado e sofria bullying. Me tocou no território de alteridade e da diferença, porque fui aluno de escola pública da periferia e, mesmo assim, era um dos poucos negros. E eu sempre fui o mais escuro.
Na escola, não convivi com negros de pele retinta, como é o meu pai. Você acaba não se vendo, o que é um problema para a subjetividade — não se ver espelhado no outro. Os professores eram brancos, então neste lugar você já não está. Tive um primeiro professor negro apenas no ensino médio, e nesse momento de letramento racial, você faz o exercício de olhar ao redor e refletir como se constituiu até ali. Na época, não tínhamos um livro com uma protagonista negra. O próprio menino do dedo verde era branco, mas me identifiquei porque ele tinha um marcador da diferença.
A oferta de livros em salas de aula mudou desde então?
Nos últimos dez anos, vi a universidade escurecer, já na condição de professor. Me via projetado nos alunos e eles me viam. Sinto que até aquele momento não se pensava sobre isso na literatura. E não vou dizer que isso ocorria por conta de maus professores, mas sim porque não era pauta. Porque o mito da democracia racial é devorador e naquela época devorava tudo. Essa ideia de que somos todos iguais não transformava a nossa falta de identificação em uma pauta, então não existia a preocupação de trazer livros sobre o tema. Hoje, presenteio livros como o que escrevi para os meus sobrinhos, para as crianças do terreiro. O que me faltou — esse letramento racial na infância —, busco oferecer a todos, inclusive aos meus alunos do ensino fundamental, médio e superior.
Como podemos incentivar o hábito de leitura nas crianças?
A leitura é muito importante na vida e ou você a afugenta ou você a aproxima. Para as crianças, o hábito tem a ver com o exemplo. No nosso terreiro e na minha casa, onde recebo meus sobrinhos, deixo livros espalhados, é importante dar esse protagonismo. É também preciso ler para as crianças e elas precisam ver adultos lendo, porque reproduzem o que veem. Não é preciso obrigar, porque isso pode inibir a leitura. Ninguém lê tudo, o próprio adulto só lê o que gosta. Existem diversos tipos de leitores, gostos, gêneros literários e o tempo de cada um para descobri-los.
Matéria publicada na edição impressa #74 em setembro de 2023.
Porque você leu Literatura infantojuvenil
E se eles entrarem na minha casa?
Cartas e desenhos de crianças moradoras de favelas da Maré retratam cotidiano de violação de direitos básicos
MAIO, 2024