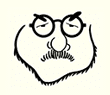
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
Poesia concreta
Em ‘Ninguém quis ver’, Bruna Mitrano constrói uma memória altiva e contundente das vidas periféricas
13jul2023 | Edição #72Bruna Mitrano escreve a setenta quilômetros do mar. Dois ônibus, 24 estações de trem e onze de metrô separam-na do litoral que concentra os privilégios e baliza as exclusões de quem vive no Rio de Janeiro. As coordenadas de tempo e espaço, declinadas logo nas primeiras páginas de Ninguém quis ver, são essenciais para percorrer seu segundo livro. Nem tanto porque ajudariam a decodificar referências elípticas à cidade, mas por estarem na base da arquitetura rigorosa de quarenta poemas duros, violentos e ternos.
A poesia de Mitrano está plantada num Rio que por muito tempo não aparecia no gps da cidade letrada. Mas seu lugar tampouco é delimitado pelos pins que passaram a estabelecer o perímetro de uma literatura “periférica”. Senador Camará, na Zona Oeste carioca, é marca de nascença, lugar negligenciado pela miséria banalizada e transformada num clichê desumano. É sobre essa terra devastada e de alguma forma amada que se assentam cacos de narrativa e imagens de vidas desassistidas, invisíveis. Ou que ninguém quer ver.
A menina que vive ali a despeito de sua vontade — “eu não esqueço/ que moro onde não escolhi/ que moro onde posso morar” — não tem refresco. A memória da infância, de mulheres que lavam roupa juntas, ao ar livre, poderia sugerir o bucolismo de um rio, mas tem como paisagem o valão onde “corpos/ de porcos boiavam”. Depois das tempestades, o trabalho sempre igual — “empurrar/ lama com rodo”, “desempilhar os móveis” — e a renovada torcida pela estiagem — “desenhar com uma lasca de tijolo/ sóis nas calçadas”. Em convivência próxima com urubus, melhor aprender com eles, e não com gente: “não temos mãos/ nem pedras nas mãos/ pra atirar em quem/ nos causa repulsa”.
Como em toda literatura incômoda, Bruna escreve para rasurar o conformismo do que já ‘está escrito’
Geografia é origem, mas não destino. É contra a ideia de uma fatalidade social que se insurge Ninguém quis ver, livro assinado por “a sobrinha a filha a neta da empregada”, alguém que, na ordem excludente da sociedade brasileira, não se supunha ser autora de livros. Como em toda literatura incômoda, Mitrano escreve para rasurar o conformismo do que já “está escrito”, para honrar a linhagem feminina que sustenta a família com o afeto possível na precariedade e o amor ilimitado das avós.
Para a poeta, “a memória essa sim existe/ pra ser picotada como lençóis usados/ e bilhetes”. Pois é menos de metáforas do que da concretude, própria de trapos e recortes, que se reconstitui infância, adolescência e maturidade em tentativas de “tocar a liberdade”, “tocar o impossível” ou “escapar do labirinto” de um cotidiano estropiado. Até que se “chega à idade” em que a mãe “está velha/ pra satisfazer os desejos dos donos/ da casa e que logo será você/ a satisfazer os donos/ da casa que dizem é também sua/ mas que você nunca conheceu inteira”.
Ponto de vista próprio
De uma forma oblíqua, a literatura não deixa aí de ser a conquista de um “teto todo seu”, com Virginia Woolf devidamente remixada em dicções e estratégias. Bruna Mitrano divide com as companheiras de As 29 poetas hoje (Companhia das Letras), antologia que é recorte de geração e gênero, aquilo que a organizadora, Heloisa Buarque de Hollanda, preza como “capital inestimável” das autoras: “um ponto de vista próprio e irreversível e o enfrentamento sistemático do cotidiano, dos desejos e dos custos de ser mulher, já bem distante do que se conhecia como linguagem e/ou poética de mulheres”.
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
Deste enfrentamento dá testemunho a avó, Adelina, a quem o livro é dedicado e que além de ensinar à neta a “degolar franguinhos”, lembra que a mulher é sempre “mulher do Fulano”, “propriedade de alguém”. Exceção, lembra Mitrano, daquelas que “matam o marido/ e fogem com a cabeça/ numa sacola de mercado”. Estas, observa, “ganham nome/nos jornais/ e ameaçam o anonimato/ das mulheres que em breve/ vão aprender/ a degolar franguinhos”.
Os custos incomensuráveis de ser mulher podem envolver, sem fumos de metáfora, a própria vida: “não se diz não prum homem/ armado até os dentes”. Quem o afirma sabe bem o que está falando, depois de viver um tempo “com a mão/ direita na faca/ debaixo do travesseiro”, em vigília permanente “depois que um homem/ na ilusão de me conhecer/ fez do meu corpo/ seu território em guerra”. Na solidão inegociável da brutalidade — “nenhum grito de revolta em meu nome” — não há, no entanto, lugar para a rendição: “nenhuma voz sustenta/ ou abate/ o corpo violado”.
Para Heloisa Buarque de Hollanda, a dicção poética de Bruna Mitrano se define por uma “violência expressiva”. Neste sentido, nenhum outro poema é tão eloquente quanto “2 de julho de 2019”:
noite passada vi
um homem sem cabeça
não um ser mitológico
nem um desses zumbis de seriado
um homem que sangra
decapitado na vila kennedy
um homem de peito aberto
sem metáfora
ou outra figura de linguagem
que emprestasse beleza
à imagem do coração arrancado
e enfiado na boca
A imagem perturbadora leva ao paroxismo os variados tipos de violência que pontuam Ninguém quis ver, dos abusos sexual e moral à tirania dos crediários. Ainda que dolorosa, a memória é altiva, livre tanto da autopiedade quanto de um tipo de arrogância peculiar, a dos que sobrevivem. Porque o livro, como lembra um dos poemas, apesar de não apagar o passado, é em si um futuro.
Matéria publicada na edição impressa #72 em julho de 2023.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024







