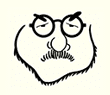
Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
Notas sobre Sontag
Na copiosa literatura sobre a ensaísta, ‘Sempre Susan’ é relato complexo e nuançado em que influência não é sinônimo de subserviência
05out2023 | Edição #75Billy Wilder via semelhanças entre Marilyn Monroe e a Segunda Guerra Mundial. Sobre elas foram escritos muitos livros, conviver com as duas foi muito difícil, mas, quando vistas no cinema, até que valeram a pena. Eu acrescentaria à lista Susan Sontag: em torno de sua biografia já se formou toda uma biblioteca; conviver com ela, ao que tudo indica, não foi nada fácil; mas, pelo menos por escrito, valeu a pena.
2
“Que Susan?”, pergunta a jovem assistente editorial ao chefe, Robert Silvers, que lhe pedira para telefonar a uma colaboradora. Assistindo a cena, Barbara Epstein, rindo dela, repete baixinho: “Que Susan”. Estamos na redação da New York Review of Books, na década de 70, e os dois fundadores e editores de uma das mais longevas instituições intelectuais americanas não veem nenhum sentido na dúvida de Sigrid Nunez. Afinal, naquele momento, naquele lugar, só havia uma Susan: Susan Sontag.
3
Em Sontag: vida e obra (Companhia das Letras), a exaustiva biografia premiada com o Pulitzer em 2020, Benjamin Moser define sua personagem como “a única intelectual reconhecida por gente que não sabia nada sobre intelectuais”. O que não é de todo estranho para quem topou ser garota propaganda de bebida, a vodka Absolut, ou fazer o próprio papel num documentário fake, o Zelig de Woody Allen. Ou para alguém que, com as Torres Gêmeas ainda fumegando, escreve e fala na tv, destemidamente, contra a infantilização dos norte-americanos diante da tragédia.
O livro tem o perfume da intriga, mas não se resume a ela. Revela segredos de polichinelo de Sontag
4
“Susan Sontag pertence menos à história da literatura do que à história da publicidade”, escreveu Joseph Epstein, o peçonhento escritor, ao resenhar Sempre Susan, livro em que Sigrid Nunez, aquela desavisada assistente da New York Review of Books, conta o que aprendeu sobre a tal Susan. E não aprendeu pouco. Afinal, tornou-se sua assistente pessoal e, logo, namorada de David Rieff, filho da patroa. Viveu sob o mesmo teto que os dois, se tornou uma excelente escritora e não resistiu à tentação da memoir, um dos vícios literários mais recorrentes na virada do último século.
5
O que caracteriza uma boa memoir, diz Vivian Gornick, que entende do riscado, não é exatamente o que se passou com o autor, mas “o sentido maior que o autor é capaz de construir a partir do que aconteceu”. É insuficiente, portanto, apenas narrar anedotas, evocar o que viu, ouviu e viveu. Se na ficção o personagem é evidente construção do autor, na memoir o narrador também o é, só que de forma mais sutil. Uma primeira pessoa eficaz na não ficção está longe de ser resultado de uma intangível sinceridade ou da espontaneidade que se sabe impossível na escrita de qualidade. Neste tipo de relato, a memória é, segundo a autora de Afetos ferozes, um “princípio de organização” que determina a estrutura do que se conta. “Estrutura impôs ordem”, analisa ela em The Situation and The Story:
Ordem fez com que as frases fossem mais bem trabalhadas. O bom acabamento das frases aumentou a expressividade da linguagem. A expressividade aprofundou a associação.
6
Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
Lançado nos Estados Unidos em 2011, Sempre Susan tem o inegável perfume da intriga, apesar de a ele não se resumir. Afinal, o que revela são segredos de polichinelo sobre Sontag: rispidez, arrogância, ambição. Nada que não fora exposto, por exemplo, por Terry Castle em “Desperately Seeking Susan” (“Procura-se Susan desesperadamente”) ensaio publicado na London Review of Books em março de 2005, menos de quatro meses depois da morte da autora de A vontade radical. Das memórias da professora de Stanford, que descreve diversos encontros entre as duas ao longo de dez anos, emerge uma personagem horrenda e uma relação tóxica e pouco nuançada, a humilhação da acadêmica da universidade de elite pela intelectual-celebridade. A declarada mágoa não impede, no entanto, que Castle use e abuse, a título de credencial, de uma frase elogiosa e vazia atribuída a Sontag: “A crítica mais expressiva e iluminadora de nossos dias”.
7
A. O. Scott, o excelente crítico de cinema do New York Times é de 1966. Adolescente cheio de pretensões intelectuais, ficou fascinado quando encontrou, na estante dos pais, o Contra a interpretação. Publicado no ano em que nasceu, o livro pareceu-lhe atraente e enigmático pelo título e pela foto da autora, na capa de uma edição de bolso. Como Sigrid Nunez, Scott também foi assistente editorial na New York Review of Books. Diferentemente dela, nunca encontrou Sontag. Numa noite, na redação da NYRB, atendeu a um telefonema para o mesmo Robert Silvers e anotou o recado: “Diga a ele que Susan Sontag ligou. Ele saberá porquê”. Noutra ocasião, a viu de longe nas galerias da Frick Collection. Mais tarde, pautado para escrever um perfil dela para o New York Times, não conseguiu sequer marcar a entrevista. “O terror de querer sua aprovação foi paralisante, pois, a despeito de minha pose jornalística, era exatamente isso que iria acontecer”, escreveria ele em “How Susan Sontag Taught Me to Think” (“Como Susan Sontag me ensinou a pensar”).
8
Em 1995, entrevistei Susan Sontag por conta de Assim vivemos agora, conto sobre a devastação provocada pela aids que havia saído na New Yorker em 1986 e, por aqui, ganhava edição num livrinho da Companhia das Letras. A entrevista telefônica não favorecia o tenso repórter do Segundo Caderno, do Globo. A voz, impositiva, atendeu dando ordens, avisando que teríamos que ser rápidos, que precisava escrever, que o tempo lhe era precioso etc. — queimando, nesta introdução, o meu precioso tempo. Sontag respondeu burocraticamente às minhas perguntas sem graça mas demonstrou muito interesse no tradutor, Caio Fernando Abreu. Sabia que ele era um grande escritor e que era portador do HIV. Me perguntou se a tradução parecia boa e, para meu desconcerto, pediu que lesse o início da história para que ela ouvisse “a sonoridade” do português. Quando terminei, murmurou um “beautiful”, judicioso, é claro, sobre uma língua que desconhecia.
Sigrid Nunez reconstitui em detalhes a tensão, óbvia e perene, entre ela e a intelectual mercurial
9
Sempre Susan é, para A. O. Scott, uma obra-prima no “subgênero Eu Conheci Susan”. Talvez porque Sigrid Nunez não queira apenas ser uma testemunha privilegiada e, com o rigor disfarçado de conversa próprio da boa memoir, reconstitui em detalhes menos os episódios do que a tensão, óbvia e perene, entre a candidata a escritora de 25 anos e a intelectual mercurial que, aos 43, já era uma estrela. Não escapa no entanto à jovem que a mulher muitas vezes intratável, sempre disposta a “informar” (era esse o verbo que usava) aos amigos o quão ruins eram seus textos ou a destratar estranhos, “recuaria” caso alguém lhe “mostrasse os dentes e rosnasse de volta”. Ou que, muitas vezes, Sontag era tratada com agressividade desmedida por ser mulher — de interpelações violentas em debates públicos aos boatos, então correntes, de que mantinha relações sexuais com o filho, David.
10
“Muito pouco do que ela me disse sobre qualquer coisa que lhe mostrei me foi útil”, observa Nunez, que jamais foi admiradora da ficção de Sontag e que, talvez por isso, não só tenha sobrevivido intelectualmente a ela como possa tratá-la de igual para igual neste livrinho admirável. Para além do pouco mais de um ano da intensa convivência das duas, que se conheceram em 1976, Nunez registra a grande frustração de Sontag não obter o reconhecimento que, acreditava, lhe seria de direito como autora de ficção — “uma sensação de fracasso se agarrava a ela com uma roupa de viúva”, escreve Nunez. Só em 2000, com o romance Na América, Sontag receberia o National Book Award de ficção. Nunez o venceria dezoito anos mais tarde, com o comovente O amigo.
11
A partir de uma das afirmações mais controversas de Sontag — “a interpretação é a vingança do intelecto sobre a arte” — A. O. Scott especula se a ênfase cada vez maior na personalidade da ensaísta tenha se tornado danosa à leitura de sua obra. “Biografia, na mesma medida, é a vingança da pesquisa sobre o intelecto”, escreve ele. “A vida das ideias é transformada em ‘a vida’, um caixão lotado de revelações chocantes e suposições espectrais, menos um convite para ler ou reler do que uma desculpa, conveniente e copiosa, para não ler um autor”.
12
De alguma forma, Sempre Susan é tributário de “Peregrinação”, a excepcional memoir, disfarçada de conto, em que Sontag lembra como, adolescente, foi levada pelo namorado a um encontro em tudo frustrante com Thomas Mann, seu herói literário, então vivendo na Califórnia. Sigrid Nunez, que menciona o texto ligeiramente, usa estratégia parecida ao descrever o constrangimento em torno de um de seus ídolos intelectuais, Edward Said, numa mal ajambrada visita ao apartamento de Sontag. Uma piscada de olho que de alguma forma justifica e estrutura as nuances e a complexidade de Sempre Susan, um retrato duplo de autor e personagem:
Ao longo dos anos, conheci ou soube existir um número surpreendente de pessoas que disseram ter sido a leitura de Susan Sontag na juventude que as fez querer ser escritoras. Ainda que isso não tenha acontecido comigo, a influência dela em como penso e escrevo foi profunda.
Matéria publicada na edição impressa #75 em outubro de 2023.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024








