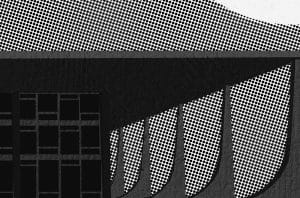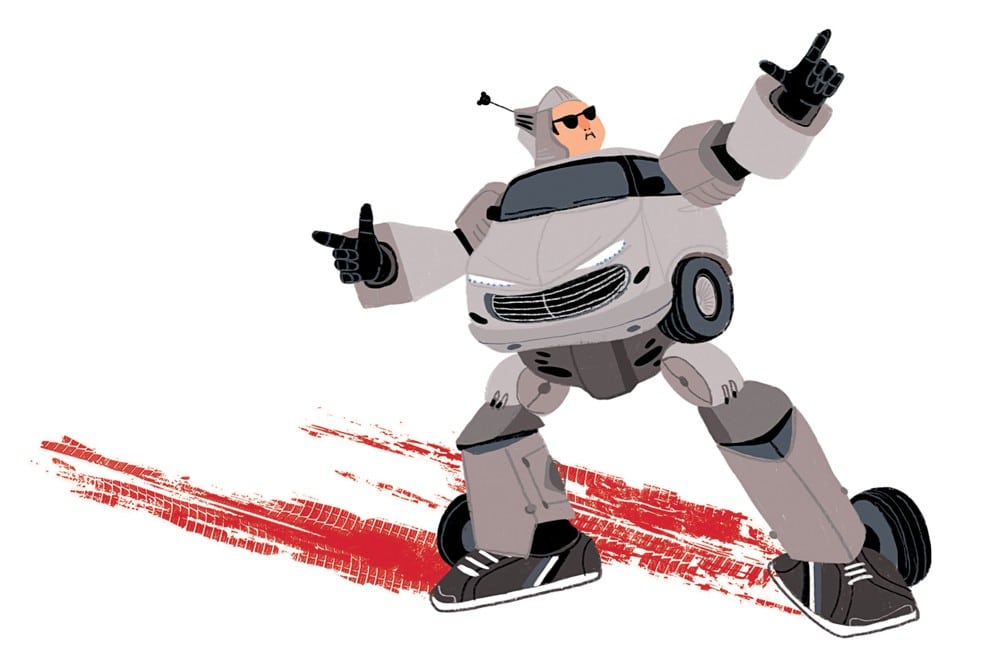
Laut, Liberdade e Autoritarismo,
Velozes e furiosos
Como o automóvel erodiu a vida democrática nas cidades dos Estados Unidos e do Brasil
01abr2021 | Edição #44Há cerca de cem anos, enquanto a Europa vivia o intervalo de duas matanças em massa, nos Estados Unidos ocorria uma outra guerra. Uma guerra cotidiana, a princípio de menor poder destrutivo, que iria definir a sociedade ocidental no século 20 e legar ao século 21 um problema de dimensões colossais. Trata-se da guerra dos automóveis contra as cidades; da vida motorizada contra a vida comunitária e democrática.
Raramente concebemos esse momento de disputa. Naturalizados em nossa rotina, os automóveis parecem ter nascido junto com as cidades. No entanto, eles eram seres estranhos à vida urbana há até pouco tempo. Impactado por fotografias de cidades estadunidenses no início do século 20 — em que as ruas eram apinhadas de pessoas e abrigavam usos diversos —, o historiador Peter D. Norton resolveu investigar como foi o processo de transição que levou à era do motor.
O resultado de sua pesquisa está no livro Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City, publicado pela MIT Press e inédito em português. A partir de uma vasta pesquisa em arquivos, o autor mostra, com riqueza de detalhes, como se deu a consolidação do automóvel nos Estados Unidos. Um processo turbulento e de grande mobilização, cujo resultado parecia difícil de prever: se os carros iriam prevalecer e alterar o uso consolidado das ruas ou se sua utilização ficaria restrita para manter a primazia dos pedestres e outros meios de transporte.
Mortes no trânsito
Nas décadas de 1910 e 1920, o automóvel ainda era um item de luxo na Europa. Seus proprietários eram industriais, banqueiros e jovens aristocratas, muitos deles usando o veículo para esporte. Foi nos Estados Unidos, graças aos processos de automação industrial da Ford, que o carro se tornou primeiro um produto de massas. E sua rápida difusão virou um campo minado de problemas.
O surto produtivo de veículos foi acompanhado da escalada de acidentes e mortes. Segundo dados organizados por Norton, os acidentes de trânsito matavam menos de trezentas pessoas por ano nos Estados Unidos em 1907, ao passo que em 1923 as mortes já passavam de 15 mil anualmente. Crianças de quatro a oito anos representavam o principal grupo de vítimas em muitas cidades. Na maioria, morriam atropeladas enquanto brincavam nas ruas, caminhavam pelos bairros ou de e para a escola.
A comoção com os acidentes não era pequena. Há famílias que perderam os filhos em atropelamentos
A comoção com os acidentes não era pequena. Há histórias de famílias que perderam os dois únicos filhos em atropelamentos. Motoristas eram minoritários na sociedade e a indignação por suas condutas se alastrava. Aumentou então a participação popular em comitês de segurança, espaços inicialmente de atuação nas indústrias que começaram a se ocupar do crescente problema do trânsito. Muitas das campanhas desses comitês passaram a ter forte tônica contra carros.
Mais Lidas
Nas Semanas de Segurança no Trânsito, que se iniciaram em diversas cidades, havia passeatas, instalação de monumentos públicos em memória dos mortos e diversas campanhas publicitárias — há registros de cartazes em que automóveis eram associados a vilões e mesmo ao demônio. Como conta Norton, “na Semana de Segurança no Trânsito de Nova York, em 1922, uma procissão de 10 mil crianças” homenageou com um memorial as 1.054 crianças mortas no trânsito na cidade no ano anterior. Manifestações desse tipo pipocavam país afora. Com o crescimento das frotas e dos acidentes, aumentavam os congestionamentos. Chamada a atuar no trânsito, a primeira geração de engenheiros de tráfego via as ruas como bem público, que necessitava de regulação para se tornar mais eficaz. Sendo os automóveis ineficientes para deslocamentos em centros urbanos, por ocuparem muito espaço relativamente ao transporte coletivo (como os bondes que circulavam naquelas cidades), iniciou-se uma tendência de restrição de carros nos municípios.
No meio da década de 1920, a situação do automóvel nos Estados Unidos não era das melhores. Estavam na ascendente o tom e a força das campanhas de segurança, a indignação com acidentes e mortes, as buscas por redução de velocidade e restrição à circulação em áreas adensadas. Nos anos de 1923 e 1924 a venda de automóveis caiu pela primeira vez no país, acendendo o alerta amarelo na indústria.
Foi preciso uma atuação organizada do setor automotivo, representado por associações industriais e câmaras de comércio, para garantir o caminho que interessava a seus negócios. Assim se formou o lobby automobilístico, que, com relevante investimento financeiro, se estruturou para persuadir governos, mídia e Judiciário.
Ao colocar o problema em termos de liberdade, diz Norton, o setor automotivo entendeu que poderia superar as difíceis questões de justiça, ordem e eficiência
Para uma disputa tão desfavorável, foi necessário alterar os termos do debate público. A questão apontada no tema dos acidentes era a justiça: alguns poucos motoristas causavam danos enormes à maioria, que tinha direito ao uso das ruas. A questão colocada pelos engenheiros de tráfego era a eficiência: automóveis eram pouco eficientes para zonas adensadas e deveriam ser restritos. Enquanto o debate continuasse nesses termos, o jogo seguiria difícil.
“Em meados dos anos 1920 o setor automotivo concluiu que não mais poderia trabalhar com as definições existentes dos problemas”, relembra Norton, apontando que “ao colocar o problema em termos de liberdade política e de mercado, o setor entendeu que poderia superar as difíceis questões de justiça, ordem e eficiência”. Em um país como os Estados Unidos, evocar as ideias de liberdade e de progresso para defender a livre utilização de automóveis caiu como uma luva.
Liberdade para quem?
A liberdade, como se vê, tem duas faces. Se tomada como mera liberdade individual, cujos impactos na coletividade são negligenciados, pode se tornar ferramenta de opressão de alguns grupos sobre outros. A história aqui contada é um exemplo notório: para que a liberdade de dirigir automóveis fosse proporcionada a alguns (na maioria, a parte masculina, branca e afluente da sociedade), as liberdades de caminhar nas ruas, compartilhar o espaço público, respirar ar puro e ver os filhos brincar em segurança foram tolhidas.
Vale notar que, na disputa narrada por Norton, os personagens que atuaram para garantir a era do motor eram todos homens. As mulheres, quando aparecem na história, estão do outro lado: engajadas nos comitês de segurança, nas Semanas de Segurança no Trânsito, nas passeatas contra a morte de crianças, nas cartas indignadas aos jornais. A liberdade automobilística se deu desde sempre como uma afirmação do poder patriarcal em detrimento da coletividade. Nas palavras de Joice Berth, o “poder absoluto” dado aos automóveis “tem tudo a ver com a supremacia masculina elitista e racista”.
A urbanista recupera a ideia de “cidadanias mutiladas”, utilizada por Milton Santos para a série de exclusões sócio-raciais praticadas no Brasil, para apontar como “a disputa desigual de poder de ocupação e permanência nos espaços das cidades” é mais um elemento que mutila nossa cidadania. Não por acaso, no Brasil, a liberdade de dirigir sem limites de velocidade ou respeito a sinais vermelhos vem sendo defendida há anos pelo atual presidente da República. A cruzada contra radares de trânsito foi desde muito uma plataforma de campanha de Jair Bolsonaro, e a flexibilização das regras para motoristas infratores foi uma das primeiras vitórias de seu governo no Congresso. Com ela, o país, que tem uma das mais altas taxas de mortes em acidentes de trânsito do mundo, tenderá a ver essa carnificina se acentuar.
Abordei o tema em um ensaio longo na revista Piauí; aqui cabe ressaltar como, para um certo Brasil profundo que Jair Bolsonaro soube congregar como campo político, a ideia de liberdade opera não para aprofundar a vida democrática, mas como via para o autoritarismo calcado na lei do mais forte. Eis uma marca da agenda bolsonarista: da defesa da contravenção no trânsito à da pesca irregular, do boicote à vacinação ao do controle de armas, trata-se de aumentar uma suposta liberdade individual que erode a vida coletiva.
O filósofo Renato Lessa chamou a essa característica de “índole libertária” do Homo bolsonarus — um “animal artificial”, nos termos do autor, que sustenta o autoritarismo em curso no país. Ainda em suas palavras, “a liberdade natural”, desejada pelo bolsonarismo, “exige a desativação das instituições e normas que garantem toda e qualquer liberdade política e civil”; e o projeto visa a “um cenário no qual as interações humanas são governadas pelas vontades, pelos instintos, pelas pulsões e no qual a mediação artificial é mínima, ou mesmo inexistente”.
A liberação dos desejos
A contraposição entre essa “liberdade natural” e a “liberdade política e civil” não é nova. A bem ver, está na base do argumento de Sigmund Freud sobre o mal-estar das civilizações: o preço a ser pago pela organização da vida coletiva é a renúncia ao instinto, “a não satisfação de instintos poderosos”, que, nas palavras do criador da psicanálise, “é a causa da hostilidade contra a qual todas as civilizações têm de lutar”. Aqui, nota-se que o bolsonarismo opera pela supressão do superego freudiano, liberando, como sugeriu Fábio Bittes Terra, “traços sociais indesejáveis à vida social agregadora” diretamente “das entranhas dos desejos reprimidos”.
A palavra liberdade, talvez a mais pronunciada na história da emancipação das sociedades, foi usurpada pelos autoritários do momento
Se a agenda bolsonarista parece um retrocesso — e é! —, importa lembrar que ela seguiu incrustada no cotidiano das cidades brasileiras mesmo durante o atual período democrático. A ampla liberdade individual oferecida a motoristas tolheu desde muito as condições necessárias para uma vida social agregadora; a liberdade para desrespeitar regras de trânsito produz nossa matança cotidiana; e a liberdade para abandonar a vida urbana e se fechar em condomínios privados degradou o espaço público e impediu a concretização de uma vida democrática no país.
Aqui vale ressaltar, como argumenta Nancy Fraser, que a “autodeterminação genuína requer tanto liberdade pessoal quanto coletiva” e que “as duas estão internamente conectadas e nenhuma pode ser assegurada na ausência da outra”. A palavra liberdade, talvez a mais pronunciada na história da emancipação das sociedades, foi usurpada para fins de individualismo selvagem pelos autoritários do momento. Se recuperá-la parece ser uma tarefa essencial para sairmos desse buraco, isso não se dará sem encarar as cidadanias mutiladas que já se intensificavam nas cidades brasileiras bem antes da eleição de 2018.
Editoria especial em parceria com o Laut

O LAUT – Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo realiza desde 2020, em parceria com a Quatro Cinco Um, uma cobertura especial de livros sobre ameaças à democracia e aos direitos humanos.
Matéria publicada na edição impressa #44 em março de 2021.
Porque você leu Laut | Liberdade e Autoritarismo
Desradicalizar e democratizar
É preciso entender e enfrentar o crescente extremismo político no país para proteger a democracia brasileira
MAIO, 2024